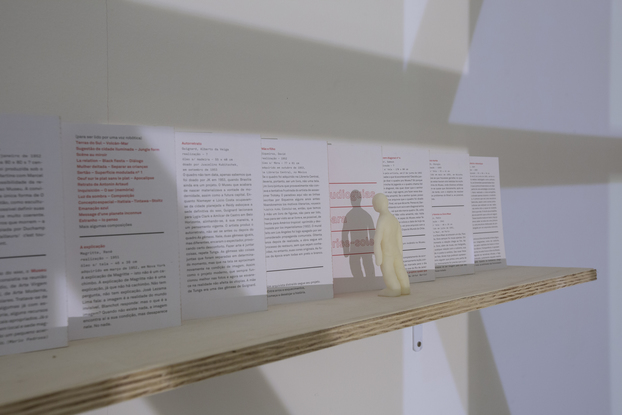Diego Matos
Diego Matos
Abaixo, a entrevista concedida pelo artista Felipe Braga para o crítico Diego Matos entre junho e julho de 2018.
A conversa foi coordenada por uma troca sistemática de e-mails, acordada após reflexões e discussões entre os autores. De um roteiro inicial de perguntas, o resultado é consequência da dinâmica do diálogo, construído em intervalos de 48 horas entre cada pergunta e resposta.
Diego Matos: O próprio nome do seu projeto, "Audio-guias para brise-soleil", parece sugerir um lugar simbólico e conceitual para o trabalho, qual seja, a atuação num espaço “entre” de duas forças de poder no sistema e no lugar da arte: o do discurso e da construção narrativa e histórica (curadoria e mediação) e o do espaço construído advindo da produção de conhecimento da arquitetura (arquitetura e museografia/expografia). Como você entende ou interpreta essa consideração? Seria esse um interessante ponto de partida para a discussão?
Felipe Braga: Acho um bom começo. De fato, a medição entre esse lugar do texto/narrativa e a forma —no caso, a construção da arquitetura e referências históricas explícitas nessa forma— tanto o projeto expográfico de Karl Heinz Bergmiller quanto a própria ideia do brise-soleil atuam para provocar esse “entre”. Essa construção simbólica e conceitual que você aponta é um ponto central no trabalho, sim. E pensar sobre essas contradições que suscitam tanto o lugar do discurso quanto o da forma é uma possibilidade de produzir ficções. Nem as formas estão puras aqui, se é que um dia estiveram, muito menos o discurso. Tudo é atravessado, interpretado e reinterpretado —isso me interessa. Esse “entre” acho que é um pouco uma incapacidade dessas duas instâncias se articularem como legenda de algo. De darem conta de uma história definitiva. Pensar nos buracos, na parte que falta, seria talvez a função da ficção.
DM: Poderíamos, então, falar de uma estratégia de trabalho ancorada nesse lugar da ficção ou de um espaço “entre”, fronteiriço ou mesmo limiar? Adiante, parece haver da sua parte o interesse em explorar uma situação de impasse pertinente à nossa história cultural, uma real situação limítrofe. Portanto, talvez nunca tenhamos sido modernos em plenitude, mas já vivemos a ruína dessa condição? Somos condenados ao moderno? Ou ainda, vivemos em outra condição?
FB: Na verdade não acho que a arte dê conta de responder essas perguntas, mas de provocar ou propor outras. Acho que todos esses questionamentos são, de certa forma, pontos de vistas que se complementam e esse talvez seja o problema. Somos, em geral, induzidos a confiar em apenas uma dessas possibilidades. Acho que jamais termos sido modernos ou condenados a modernidade são faces da mesma moeda. Tem uma fala do Silviano Santiago que conta do astrólogo que vivia distraído olhando para o céu, até que cai num buraco e é obrigado a passar seus dias olhando o que o levou àquela situação. Acho interessante pensar nisso. Talvez essa ideia de ruína, que é um tanto simbólica e problemática, seja o fato de sempre se acreditar nessa vontade de modernidade construída por um referencial externo, nesse céu do astrólogo. Agora, o que faz o astrólogo quando cai no buraco é produzir novas formas de pensamento. Para conseguir sair daquele lugar, ele tem que se reinventar. E essa estratégia, ancorada na ficção, é tentar buscar outras possibilidades narrativas. É o que o astrólogo está fazendo hoje.
DM: Parece-me um bom caminho esse que estamos trilhando. Se de fato a ficção, ou mesmo uma outra história possível é sugerida, seria interessante conhecer o seu ponto de largada para essa instalação construída. Você parte conceitualmente de um caso específico da nossa história quanto à incompletude de um projeto moderno brasileiro: trata-se do Museu de Arte Moderna do Rio, que sofreu um incêndio em 1978. Você poderia esclarecer tal relação? Como você se apropria das mais diversas referências —o acidente, o acervo, a arquitetura, entre outras coisas? Para além disso, tendo em vista a história da arte e a realidade brasileira, o que o motivou a escolher e centrar sua discussão no MAM Rio e no projeto expográfico ou museográfico de Bergmiller?
FB: A pesquisa se iniciou a partir de um trabalho anterior que lidava com um museu que era construído e destruído (incendiado), na abertura, propositadamente. Obviamente, não tinha ninguém lá dentro, só as instalações gigantescas, de certa forma impossíveis de se materializarem no plano físico. Por isso, esse museu queima. Nesse trabalho, o único acesso que tínhamos era através de um catálogo. Era um museu para durar um dia, uma ideia de cúmulo do espetáculo. O trabalho se chamava “Museu espetacular de um dia”. A partir daí, comecei a pesquisar situações limítrofes dentro do espaço institucional e cheguei rapidamente ao incêndio do MAM. Quando começo a me aproximar de fato daquela situação, a dificuldade de se acessar dados concretos sobre o assunto e, principalmente, de se conhecer a imagem das obras que se perderam me apontam um novo lugar. Pensar sobre esse arquivo que, em alguma instância era um arquivo de imagem (acervo do museu) e, em um dado momento, vira um arquivo de texto (onde o acesso mais direto era apenas pelas legendas de determinadas obras), abria um campo de fabulação, uma possibilidade de inventar determinadas lacunas. Essa relação talvez tenha sido o ponto inicial que me levou à pesquisa.
Porém, quando o processo começa a ganhar corpo, diversas referências vão se sobrepondo e levam a pensar no fato de que o incêndio, de uma maneira mais ampla, sugere um ponto de ruptura de uma determinada narrativa. Tanto como um marco simbólico do fim do projeto moderno, de um fim de uma ideia de vanguarda, como também de uma situação política que parecia se reconfigurar (em 31 de dezembro de 1978, acaba o AI-5 e começa o processo de anistia). São muitos pontos possíveis para acessar essa história, e o trabalho de arte não pretende dar conta disso. De certa maneira, lido com um amadorismo em relação ao arquivo. E, ainda que o fato histórico seja fundamental, o trabalho não tem uma maior preocupação em não deturpar essa história; o que talvez seja um ponto importante, já que me interessa a questão da história oficial como uma convenção, onde certamente existem outras. Essa fronteira entre real e imaginário é uma convenção também, né? Nesse sentido, não vejo a ficção como menos real que o real (a história). São sempre discursos, uns mais aceitos, outros menos.
Sobre o projeto do Bergmiller, era um ponto de partida para materializar uma narrativa. Acho interessante o pensamento sobre o suporte do discurso, e o projeto expográfico é uma forma de estabelecer um suporte, uma base para um determinado discurso que se aplica enquanto exposição. Além disso, tanto o projeto do Bergmiller para o MAM quanto o da Lina Bo Bardi para o MASP trazem consigo uma serie de questões que podem ser deslocadas. Pensar esses elementos isolados do seu contexto é uma forma de rever essas questões e de justamente clarear essas narrativas intrínsecas a esses projetos. É (um pouco) trazer esses elementos para frente e colocar em jogo uma série de escolhas que alinham uma ideia de modernidade. Nada é neutro e, obviamente, hoje é mais do que claro que esse pressuposto de invisibilidade do espaço expositivo não se concretiza. Não existe cubo branco.
DM: Olhando em retrospecto sua produção, é possível construir um fio condutor que perpassa questões conceituais e plásticas da arquitetura e do design no contexto da arte. Você parece constantemente por em evidência e desconstruir aparatos de suporte à arte. Isso se faz presente de modo mais genérico na instalação Mini monumento às reticências e, de modo mais específico, em Trabalho funcional 1 e 2. Será que sua estratégia artística funciona como uma forma de tensionamento entre o que entendemos e nomeamos como objeto de arte e aquilo que apoia e agrega valor ao que identificamos como arte? Nesses casos, o benefício da dúvida, ou melhor, o lugar da dúvida é o lugar ou a situação da sua produção? Em "Audio-guias para brise-soleil, você toma partido de diversos recursos: a obra, que é ao mesmo tempo arquitetura, mas que se confunde com o gráfico e o som; o texto que não é a obra, mas parte dela e ao mesmo tempo elemento de medição; a narrativa que se constrói, que não é história factual, mas também não é ficção; entre outras associações. Portanto, essa multilinguagem é marca indelével desse trabalho e de tantos outros?
FB: Acho que me interessa pensar sobre essa ideia de dúvida, lidar um pouco com a ambiguidade do discurso. De certa forma, é pensar que esse discurso pode sugerir diversas interpretações. Isso me interessa. Não que eu pretenda forjar a realidade de modo a mimetizá-la. Acho que as coisas, por si só, quando postas sob novas perspectivas, já podem produzir algum tensionamento, sugerindo esse lugar da dúvida. Às vezes, penso que tudo pode ser ficção, que qualquer discurso tem algum grau de ficção. E, nesse ponto, talvez algo que já se situe enquanto ficção —no caso, o lugar da arte— seja, então, de uma realidade inexorável. É como se pudéssemos inverter os polos do que se convenciona como realidade e do que se convenciona como ficção. E, de fato, pensar sobre esses aparatos, tanto conceituais quanto físicos que legitimam determinados discursos é, em algum sentido, uma estratégia para tentar inverter esses polos.
Sobre a multilinguagem, gosto da ideia do artista como um antitécnico, alguém que pode se aventurar e se apropriar de possibilidades de produção que não domina. Mas de qualquer forma, isso também é um pouco intrínseco à minha formação. Formei-me em desenho industrial, fiz mestrado em linguagens visuais e agora faço doutorado em literatura. Embora tudo acabe convergindo para o campo da arte, também vou agregando essa multidisciplinaridade no meu processo, o que acho ser um pouco inevitável e, no fundo, talvez desejasse fazer cinema, juntar tudo. Entretanto, como isso ainda não foi possível —e nem sei se realmente quero fazer filmes para passar em uma tela—, sigo fazendo essas “colagens”, juntando peças e camadas aparentemente díspares para tentar dar algum sentido a elas.
DM: Como você mesmo sugere, sua vida acadêmica enquanto pesquisador parece atravessar sua estratégia artística e seu método de trabalho. Tendo em vista a resposta anterior, gostaria de saber de que maneira sua formação e pesquisa interdisciplinar confabulam para a estruturação de sua produção artística. Como acontece essa aproximação ou atravessamento? Do “desenho industrial/comunicação visual” na graduação ao doutorado atual em “literatura, cultura e contemporaneidade”, passando pelo mestrado em “linguagens visuais” e demais formações em arte há, de sua parte, uma consciência produtiva e poética que oriente suas investigações em todos esses caminhos? Ou se trata de uma escolha mais arbitrária e aberta? É possível, então, pontuar um método e processo de trabalho?
FB: Não me vejo como um artista que parte sempre do arquivo, um artista-arquivista. Ao menos não na noção clássica de arquivo. Porém, se pensarmos essa ideia como um grande conjunto de coisas que estão no mundo —as referências sociais, culturais e simbólicas, mas que nem sempre são reunidas em um único espaço— talvez, nesse caso, para mim, a possibilidade do artista-arquivista faça mais sentido. Um mundo-arquivo. No fundo, me interesso por muita coisa e isso acaba criando essas interferências e cruzamentos. De alguma forma, esses interesses convergem para alguma pesquisa, às vezes mais, às vezes menos articulada. É curioso, mas no caso do doutorado, de certa forma, é como se o trabalho de arte tivesse me levado a esse aprofundamento. Não que naquele momento fosse algo fundamental, mas por uma série de acasos aconteceu essa convergência. Hoje venho pesquisando justamente sobre o incêndio do MAM, mas a pesquisa artística foi anterior. E com certeza, hoje percebo que aprofundar a pesquisa era uma parte necessária da estratégia artística.
No entanto, existe sempre um cuidado para que esse aprofundamento não “academicize” o trabalho de arte. Acho que preservar as lacunas seria talvez uma forma de manter esse vínculo e de não pretender responder a questões que dizem respeito à história. E ainda que uma coisa alimente a outra, a pesquisa acadêmica e a pesquisa artística são campos distintos. Acho que o método de trabalho seria um pouco “esponja”: absorver tudo que de alguma forma possa me interessar. Se isso vira ou não trabalho, depende da decantação, do quanto essas ideias vão perdurar a ponto de poderem ser realizadas.
DM: A literatura ou, melhor, a escrita em todas as suas pertinências parece ter valor em sua atuação artística. De que modo você se relaciona com ela? Seria ela pano de fundo ou uma prática direta como arte? Qual é, então, a importância do texto em seu trabalho? Nominar ou mesmo oferecer alguma pista textual é parte imprescindível da obra? Pergunto isso, também, pois vejo em sua prática uma intenção assemelhada entre a ideia de se traduzir ou adaptar um texto e a forma com que a arte parece querer traduzir, em formato expositivo, certas hipóteses ou contranarrativas. É uma percepção pertinente à maneira como você trabalha?
FB: De certa forma enxergo essa escrita e a possibilidade da literatura como um exercício de experimentação, algo que passa pelo processo de criação, mas que muitas vezes ocupa também um lugar de trabalho. No entanto, isso não significa que me considero um escritor, não tenho essa pretensão. Acho que aí há um lugar do amador que me interessa, um processo que não domino por completo e que pode ser realizado sem um grande espaço físico ou recursos materiais. O que reflete minha condição de trabalho hoje, onde o ateliê é em casa.
Ainda que nem sempre o texto seja algo imprescindível à obra, quando isso se dá é importante que ele articule outras instâncias ou apresente alguma camada que não seria acessada apenas através da imagem. Na EBA-UFRJ, tive orientação do Milton Machado, e uma coisa que ele sempre dizia era para fazer do trabalho teórico/escrito um trabalho artístico. Esse lugar do artista na academia por vezes é um tanto duro. Pensar no texto como obra talvez seja uma possibilidade concreta de juntar as práticas e de não separá-las.
Acho que, voltando à ideia do suporte, a escrita pode produzir algum tipo de legitimação da imagem, de induzir alguma leitura, e isso me interessa. Gosto muito da estratégia do Ivan Cardoso em Nosferatu no Brasil. É um filme de vampiros realizado à luz do dia, e na apresentação é colocada a cartela “onde é dia, veja-se noite”. A escrita, aqui, ressignifica a imagem e abre um novo campo de fabulação. São acordos que são postos ao espectador. E mais do que mimetizar a realidade, a escrita pode produzir essa suprarrealidade e firmar esses contratos de visibilidade de uma forma muito simples e potente. Para mim, esse talvez seja o lugar da literatura.
Audio-Guias para Brise-Soleil
Felipe Braga
Diego Matos
Diego Matos


2018 (1).jpg)
.jpg)