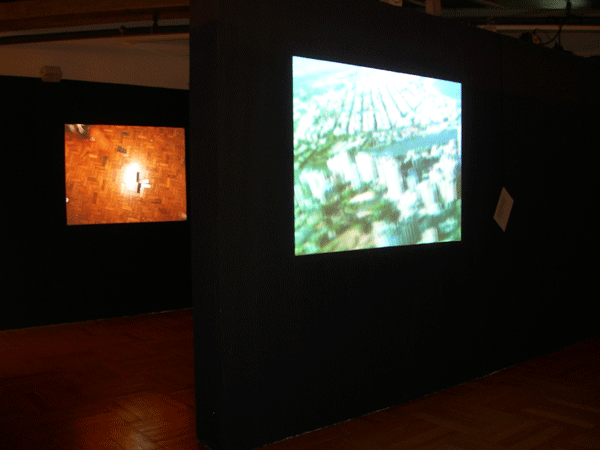Cine Falcatrua
Artistas Festival-Dispositivo
O Cine Falcatrua trabalha na fronteira entre o ambiente hiperautorizado do cinema e a ecologia fluida das novas midias. É um grupo que faz cinema sem fazer filmes: utilizando eletrodomesticos de ultima geração, busca emular estruturas de projeção convencionais e expandir seu funcionamento.
Database cinema para as massas
Cine Falcatrua
Toda a instituição cinematográfica se equilibra no eixo fictício que existe entre o projetor e a tela, sobre a cabeça dos espectadores. Esse arrimo de luz, mira vestigial, suporta sucessivas estruturas, e por elas reverbera.
O dispositivo cria uma organização: coloca as coisas no lugar e garante que suas trajetórias não se atrapalhem. Bem como a luz deve atingir a tela, o filme deve chegar aos créditos finais; os rolos de película, às salas de cinema; o público, aos seus lugares – o lucro, à conta dos produtores. Senão, a imagem não se forma.
Assim, o dispositivo circunscreve o campo de realização possível, cinema. Fora desse curral de valor e sentido, tudo se cristaliza. Tudo o que está fora: a crítica de jornal, seminários acadêmicos, realizadores independentes, a indústria do entretenimento, cineclubistas, fabricantes de câmera, camelôs, grupelhos piratas.
Nada disso se quer cinema; meramente instituição. Nada disso se quer instável. Mas, em verdade, sua consistência é muito pouca. O circuito depende que se mantenham distâncias calculadas, sujeitas à radiação essencial, e nem um pouco além. Quando o dispositivo alastra seu campo de gravidade, desarruma a órbita de sucessivos aparelhos, engolido-os em um abraço atmosférico. O cinema recupera aquilo que se havia domesticado; a imagem perde suporte, ganha fatores.
Esta exposição propõe um desses movimentos em supernova: que o dispositivo comprometa, além do arranjo da sala de cinema, os vários protocolos envolvidos na produção de um festival. Logo, a imagem que se dá não é duplo de uma certa montagem. Ela se articula em níveis, da chamada de trabalhos à composição dos programas, e o corte final só se faz com a rotina do espectador.
Neste Festival-Dispositivo, a distensão do circuito é provocada por duas estratégias aplicadas na seleção do material e na forma de exibi-lo.
A primeira: a propósito de desbastar o evento dos expedientes tradicionais do fazer-cinema, as inscrições foram limitadas a um gênero mínimo, o take.
O take é um plano-seqüência de duração suficiente: sejam três segundos, sejam dez minutos, é o tempo bastante daquelas imagens. Nada há que se cortar; nada precisa ser acrescentado para lhes dar razão.
Tomado como gênero, ele se caracteriza pela apurada precisão semântica. Se o filme de longa-metragem pode ser comparado ao romance, o take é como um haiku. Sua economia rítmica serve à preservação de uma densidade formal inerente à captura da realidade.
Do mesmo jeito que um cristal enterrado possui simetria definitiva, o take já está pronto no material bruto de gravação. Toda edição necessária para compô-lo é antimontagem: o trabalho de retirar impurezas do seu redor, de modo que o essencial sobressaia, mas tomando-se o cuidado de não cortar demais e danificá-lo no processo.
Nesse sentido, o take se dá como apreensão fugaz do mundo, verso repentino anotado em um guardanapo de bar. Trata-se de uma inspiração, porém mediada, já que se confunde com o flagrante – e se perderia para sempre, não fosse a disponibilidade de um aparelho de captura eletrônica.
Por isso, se torna pensar-em-vídeo (e não com, ou por-meio-de), processo típico de uma subjetividade ciborgue, transformado em gênero pela popularização de dispositivos portáteis de videografia – celulares, palmtops, câmeras digitais.
Assim como o lugar do artista se projetava na pintura em perspectiva, o mecanismo de captura está incrustrado nos takes: seus artefatos de imagem, baixas taxas de atualização, temperatura de cor equivocada. Como em nenhum outro estilo, se revelam as condições de gravação; são as que mais lhe afetam.
Também isso favorece a diluição dos expedientes criativos. O realizador é induzido a antecipar efeitos de montagem e pós-produção por meio de um jogo precoce de anteparos. O movimento do metrô concatena a paisagem em solavancos ritmados; o vidro embaçado faz as vezes de um filtro de blur; a gravação da gravação permite criar abstrações, ou burlar as regras do nosso edital.
E, eventualmente, o espaço se desfralda no tempo da cena: plano-seqüência.
Na mesma medida em que essas obras compõem acervo de textura sutil, salta aos olhos o outro subterfúgio utilizado na rearticulação do dispositivo: e se o lugar do filme fosse não a sala escura, mas o cubo branco?
O ambiente da galeria permite que esta mostra se espacialize. Os programas de exibição, ao invés de se organizar cronologicamente, por sessões com horário marcado, podem ser distribuídos pelo espaço em telas discretas, dispostas de maneira não hierarquizada.
Dessa forma, todo o festival fica disponível simultaneamente, embora não no mesmo lugar. Para apreendê-lo, é necessário percorrer o espaço expositivo. O itinerário de cada espectador por esse campo informacional define sua experiência particular do conjunto de obras – diferentes versões de um mesmo banco de dados.
O público vê os filmes como quadros em uma exposição. Ao invés de assistir a todos sentado, de uma distância fixa, obedecendo a intervalos predefinidos, ele é livre para se posicionar onde quiser, se aproximar e se afastar das telas, interromper cada programa no seu próprio tempo.
Esse arranjo provoca um choque das trajetórias mais ordinárias: o espectador pela galeria, o encadeamento de takes nos programas, o movimento da câmera e dos objetos em cada cena.
No que o dispositivo se dilata, enquadramentos se perdem, reprises dispensáveis, filmes que terminam e você nunca saberá o começo. A imagem surge conforme esses ritmos se depuram, produzindo síncopes, desdobrando o espaço.
Gabriel Menotti