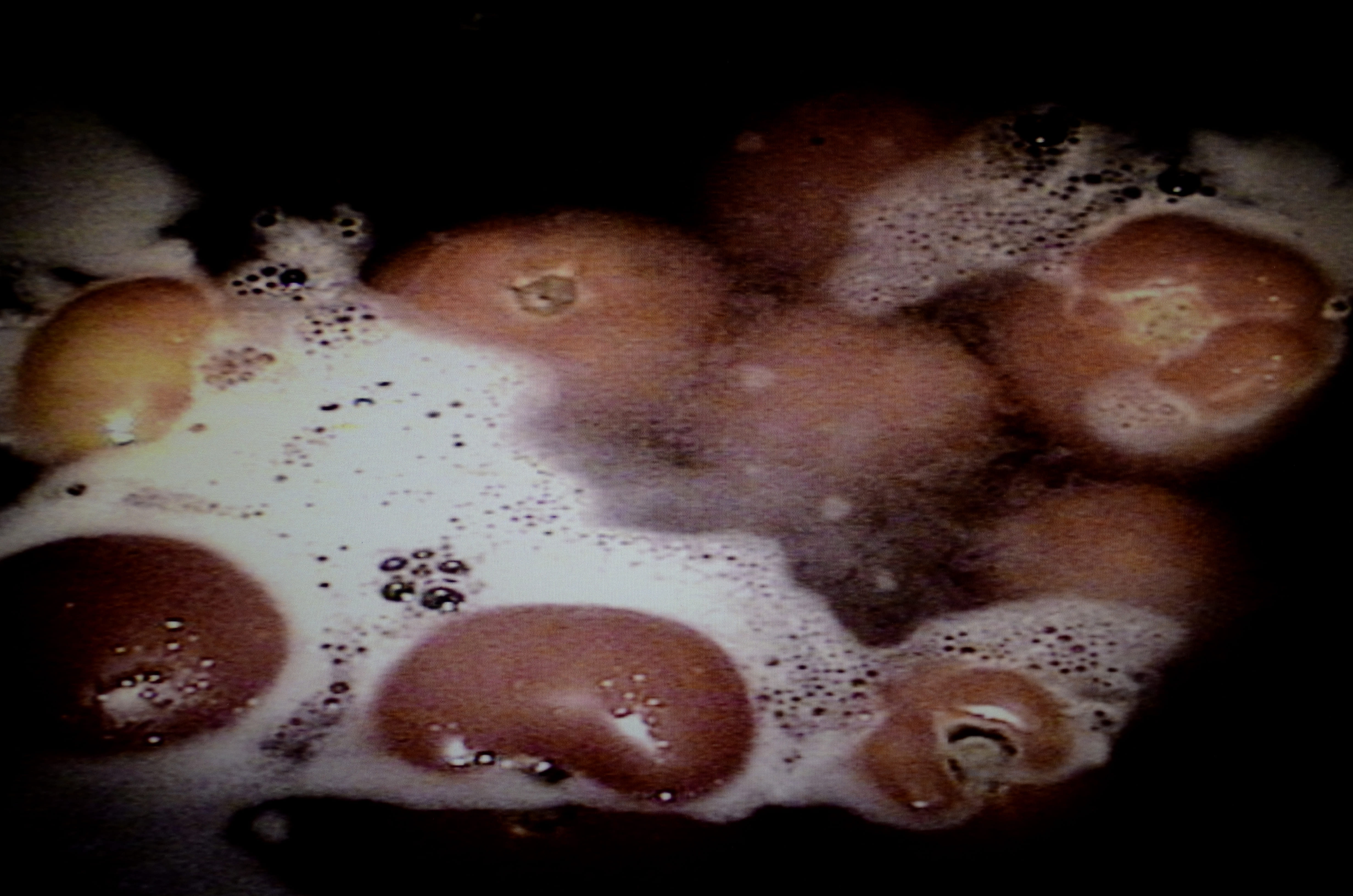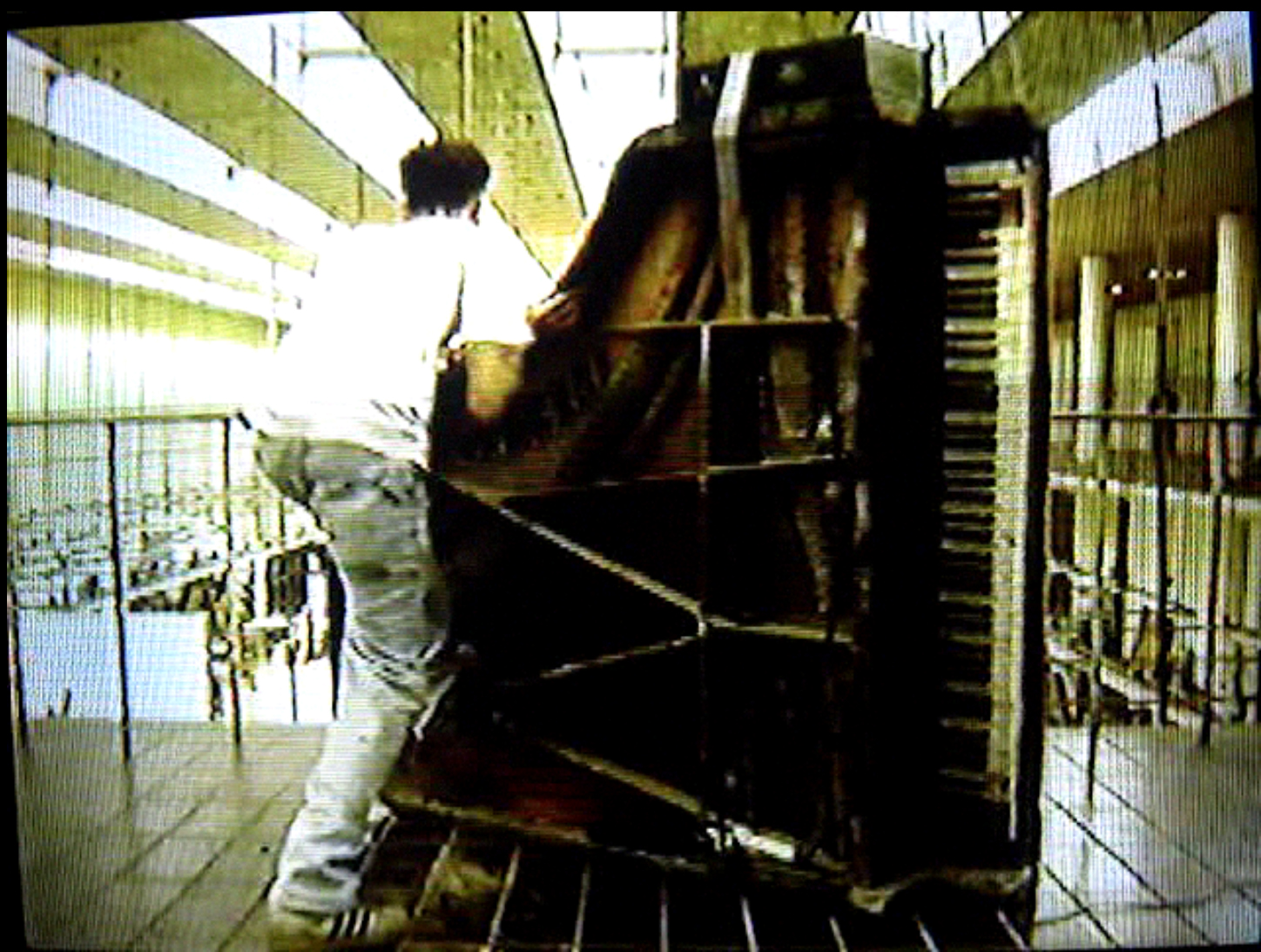Pontogor
Rio de Janeiro, 1981
Pontogor
Pontogor vive e trabalha em São Paulo. Sua pesquisa tem foco em meios como vídeo, instalação, performance e música. Interessa-se pelo ruído e o desgaste nas imagens e sons, além de estar atento ao erro e ao acaso como ferramentas. Seu processo criativo se planifica desde o pensamento hermenêutico na procura de soluções sensoriais para plasmar problemáticas filosóficas sobre espaço e tempo.
Marília Furman
ENTREVISTA COM PONTOGORMarília Furman
MF: Sempre que você fala de sua produção em vídeo, a história tem início no seu trabalho de pintura. Mas me parece existir uma diferença em relação a uma produção que faz do vídeo uma continuação da pesquisa de pintura, mas com um novo elemento – o movimento – como podemos ver, por exemplo, tanto em artistas que primeiro exploraram esse terreno audiovisual na década de 1970, como Raimundo Colares, Marcello Nitsche, quanto como um senso comum na boca de artistas que produzem foto e vídeo hoje, mas como pintores.Pontogor: Na época em que eu estudava na Escola de Belas-Artes na UFRJ, por volta de 2005, eu estava lá pintando, mas começando a entender que não fazia muito sentido aquele tipo de pintura, aquilo não me tocava mais. Simultaneamente, e quase por acaso, algumas pessoas se encontraram naquele período, começamos a nos juntar com algumas ideias e vontades em comum e a fazer um monte de coisas juntos, que não eram necessariamente trabalhos de arte. Alguns faziam fotos, outros pichavam, outros tocavam, e foi nesse momento que comecei a me interessar por vídeo. Vivíamos em meio ao lixo e ao que era desprezado naquela instituição, levando toda a sorte de tralhas para dentro do ateliê compartilhado da universidade. Eu me relacionava com a pintura, nesse momento de transição, de uma maneira bem tosca e de um jeito muito físico. Pintava grandes placas de madeira encontradas no lixo usando cimento, cal e pigmento preto, mas pensando em certos procedimentos e operações (quase como se eu criasse pequenas regras para desenvolver os trabalhos, por exemplo: jogar um monte de tinta sobre uma placa de madeira que estava deitada no chão, esperar meia hora e, depois, levantar a placa, deixando que a sorte grudasse o que tinha que grudar). Os resultados, ou a forma como a pintura pareceria depois de pronta, foram perdendo a importância, e a maneira de pintar – a forma como eu me relacionava com os materiais – foi ganhando importância. Não que eu achasse ruim as pinturas, achava ruim que resultasse numa pintura.
Saiba mais sobre a exposição
Exatamente porque, no final, poderia acabar como um produto bonito, mesmo que o procedimento fosse uma mera imbecilidade. E o vídeo tirava esse final, porque mostrava só o caminho. Então, quando falamos sobre minha produção em vídeo ter início no trabalho de pintura, estamos falando sobre esses procedimentos, sobre o que era o ato de pintar. Isso soou, para mim, naquele momento, como uma espécie de autoboicote em relação à pintura, como se, de alguma maneira, eu estivesse boicotando também minha maneira de fazer arte e, talvez, a possibilidade de ser artista. Não estava prolongando minha pesquisa em pintura, mas isso eu só entendi muito tempo depois; eu estava desistindo daquela maneira de fazer arte e encontrando outros caminhos.
MF: Você chamou de autoboicote, mas, se fosse há quarenta ou cinquenta anos, poderíamos ver como crítica ao caráter mercadológico da arte, com artistas que buscavam uma produção de arte imaterial. Nessa perspectiva, me parece que você põe em questão o próprio sentido da produção artística, se perguntando para que serve tudo isso que produzimos. Mas traz um ponto interessante, que é questionar a produtividade artística de um modo que atualiza a questão [e o termo “autoboicote” parece um sintoma disso], já que, historicamente, parece ter se tornado infrutífera a tomada de posição contra a mercadoria, e tudo o que poderia ser tomada de posição, neste cenário pós-neoliberal, acaba sendo jogado nas costas do sujeito, aparecendo como falha, erro, desistência…
Pontogor: Depois de um tempo, comecei a entender aquilo que antes soava como autoboicote e que estamos passando a chamar de crítica ao caráter mercadológico da arte. Isso foi se evidenciando em alguns trabalhos. O vídeo Orquestra para surdos vai por esse caminho, pois narra a história de um ateliê coletivo no centro do Rio de Janeiro. O filme dá voltas sobre a rotina “vazia” de alguns artistas que conviveram nesse lugar por alguns anos. No começo, não estávamos interessados em fazer um filme, apenas em filmar as coisas, as pessoas, como se estivéssemos fazendo um álbum de família. Nós íamos para aquele ateliê quase todos os dias, cinco ou sete pessoas. Fazíamos comida, conversávamos, comprávamos sonho que o padeiro vendia de bicicleta e ouvíamos Ave-Maria tocando em uma capela a três casas da nossa (todos os dias, seis em ponto). Dentro desse universo, tentávamos trabalhar, pois costuma ser o objetivo de manter um ateliê, mas praticamente não produzimos “objetos de arte”.
“Os dias apenas passaram”; “Nada aconteceu de verdade”. É um pouco dessa maneira que nos sentíamos, é um pouco dessa maneira que muitos artistas se sentem. A gente ficava lá, não conseguia fazer nada o dia inteiro, mas isso é que era interessante. Errado seria assumir a metáfora/trocadilho que aparece no começo do filme, “Todas as nossas ideias se perderam em sonhos”, e se deprimir. Mas assumimos, gozando do prazer doce do sonho de creme que chegava todos os dias às cinco da tarde.
E por conta disso, ou, talvez, gerando isso, existia essa discussão entre nós: “O que a gente está fazendo como artista?”, “Por que a gente está fazendo trabalhos de arte?” Mas uma das coisas que fiz nesse lugar é o vídeo Pintura branca, onde arrasto um cubo branco sobre placas de madeira que forravam o chão de uma sala, um pouco como comentei na questão acima, com procedimentos que não eram quase nada. Essas placas de madeira, eu apresentei em uma exposição, mas o vídeo descreve melhor a minha relação com o fazer artístico – arrastar uma pesada caixa de madeira de um lado para o outro em uma sala, pois me sentia impelido a fazer alguma coisa. O fazer artístico, vez ou outra, experienciado como o castigo de Sísifo, que carrega sua pedra sem nenhum propósito.
MF: Me parece que existe um risco, hoje em dia, em apresentar uma exposição majoritariamente feita de vídeos em VHS, já que, nos últimos anos, mídias obsoletas tomaram a cena amplamente, quase sempre com uma intenção vintage de recuperação e numa chave muito estetizante. Como se trata de uma exposição de um tempo distante, mas não tanto, há a possibilidade de que um olhar desavisado encaixe essa produção sob essa ótica, já que, no período em que foram produzidos, me parece que se pode dizer, com certeza, que o VHS estava obsoleto, tanto quanto o exato contrário.
Pontogor: Parece difícil imaginar que, dez anos atrás, metade dos filmes das locadoras do meu bairro era em VHS, mas era assim. O que chamamos de obsoleto é um conceito ou um acordo a cujos motivos, muitas vezes, não temos acesso.
Outro detalhe importante é que as boas câmeras digitais eram caras para mim, e a qualidade das câmeras de fita magnética era muito satisfatória. Em 2005, eu tinha duas câmeras VHS, três videocassetes, duas TVs, uma câmera Cyber-shot 3.2 megapixels, além de um monte de tralhas eletrônicas. Isso parece muito precário (e, mesmo na época, era precário), mas era o que eu tinha. Esses equipamentos formavam minha ilha de edição e eu tive que aprender a me virar com eles. Eram velhos e apresentavam vários defeitos e limitações: as fitas magnéticas copiadas apresentavam desgaste nas informações, às vezes mofavam, às vezes agarravam no videocassete etc. Era comum, por exemplo, estar assistindo a um filme e, de repente, a imagem ficava escrota, o áudio podre e, depois, voltava ao normal. Por isso, fundamentalmente por isso, desenvolvi um grande interesse pela falha, pelo erro, pelo acidente.
Duas coisas que levo para a vida, aprendi com esses equipamentos. Uma delas é que eu podia fazer coisas interessantes com o mais simples, que estava ao meu alcance (o que me rodeava e o que outras pessoas dispensavam por serem, na visão delas, tecnologias obsoletas). A outra foi me relacionar com o acaso e a falha, com o que não podia controlar completamente. Nesse caso, posso dizer que me vali das qualidades estéticas do VHS, da vitrola, dos equipamentos analógicos, mas também passei a entender isso como uma espécie de crítica ao que se chama de high quality.
MF: Seu trabalho tem um caminho curioso, pois se desdobra com uma aparente progressão lógica, quase didática: desenho-grafite-pintura-vídeo-performance-arte sonora. Você acha que uma coisa saiu mesmo da outra? Te pergunto isso omitindo uma área muito importante do seu trabalho, que é a produção e apropriação de objetos, porque é algo que parece estar presente em todos esses campos.
Pontogor: Não entendo que “uma coisa saiu da outra”, mas concordo que tem grande relação com a “materialidade das coisas”. Como falei anteriormente, em algum momento, percebi que poderia trabalhar com o que estava ao meu redor, e isso foi um movimento de grande abertura, pois se espalhou para todos os meios possíveis. Começou a ficar mais claro, para mim, que eu trabalhava com ideias e que diversos meios poderiam me servir: vídeo, música, performance, instalação. E a “materialidade” e/ou “imaterialidade” das obras ia depender do que estava me motivando, de que ideia ou de que objeto eu estava partindo.
Outra coisa é que o som sempre esteve ali no caminho e, talvez, tenha aparecido e interferido nos meios quase sem querer. Estou falando isso porque diversas vezes eu não sabia se estava preocupado com o som ou com a imagem; isso ia variando a cada trabalho. Eu não sei se essa progressão lógica existiu, o que sei é que, a partir de um momento, eu me abri para todos os meios. Mas a materialidade das coisas sempre me interessou. “Apenas bata com a pedra sobre a mesa, tendo em mente, música”. Foi a frase que eu falei para a pessoa que bate com a pedra em um dos vídeos. Agora pensemos que uma guitarra sendo arrastada pelo chão também gera notas e acordes ao acaso, então por que não usar uma pedra? Estamos falando sobre a materialidade, preocupava-me a materialidade da pedra.